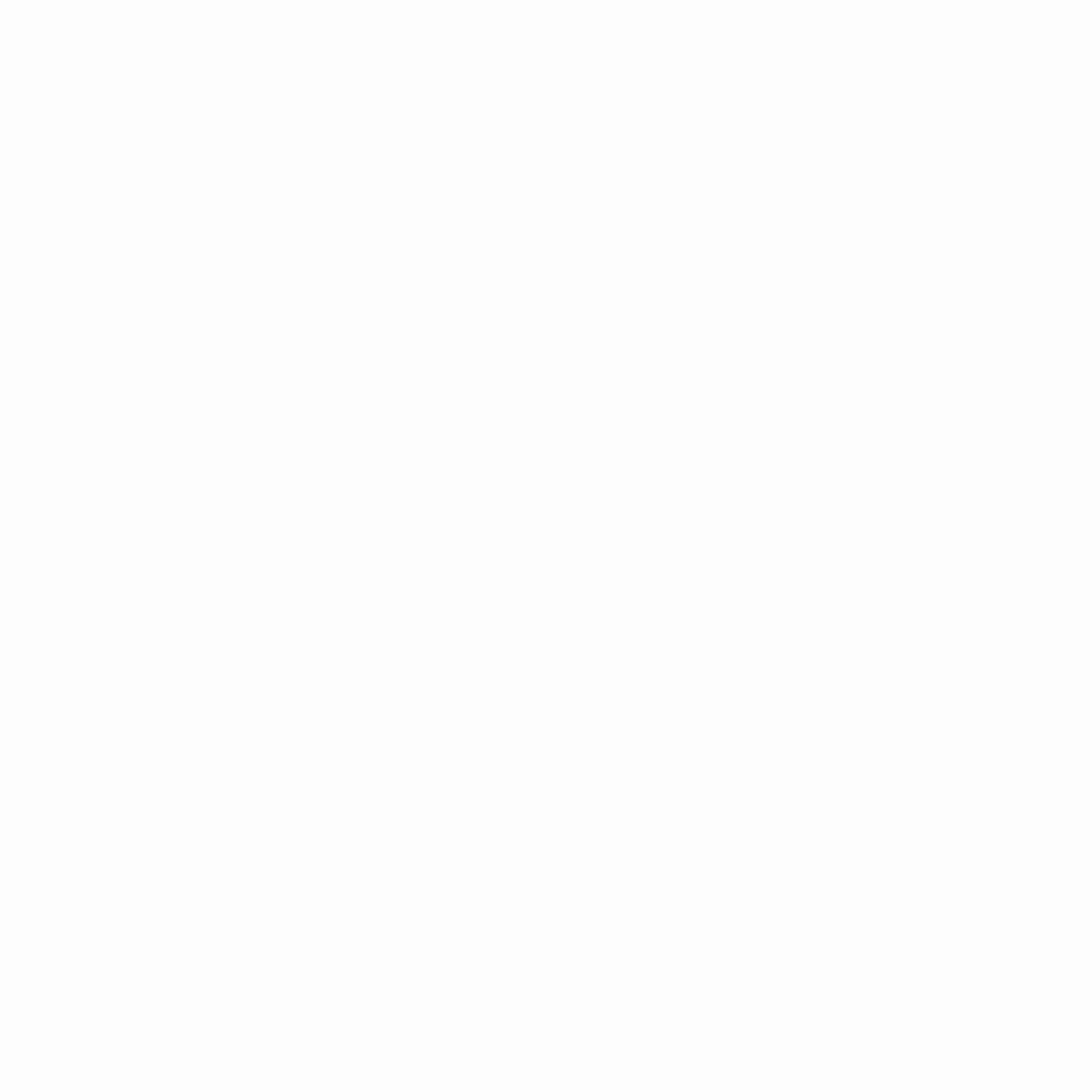Share This Article
Por Tiago Nogara, via Disparada
A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, constituiu, sem qualquer dúvida, um ponto de inflexão no conjunto do panorama político brasileiro, com severas implicações para a trajetória da política exterior do país. Se ao longo de sua campanha eleitoral prometeu iniciar um processo de “desideologização” da política externa – que estaria, na visão de Bolsonaro, supostamente tomada por ideais de esquerda e socialistas -, o caminho parece ter sido exatamente o contrário.
Seu chanceler, Ernesto Araújo, fez questão de, desde o seu primeiro discurso, afirmar o alinhamento a ser constituído entre esse novo Brasil, de Jair Bolsonaro, e os demais países então dirigidos por governos afins às ideologias antiglobalistas de viés liberal-conservador, como os de Donald Trump, nos EUA, de Salvini, na Itália, e de Viktor Orban, na Hungria. Sob a alegação de criticar a política externa dos anteriores governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), ambos do Partido Trabalhadores (PT), Bolsonaro se afastou, na verdade, de orientações historicamente assumidas pelo Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores).
Assim, princípios há décadas consagrados foram deslocados do centro da agenda em proveito de propostas que atenderam estritamente às orientações ideológicas do chamado triângulo antiglobalista – composto pelo chanceler, Ernesto Araújo, o assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, e o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro -, que orienta a inserção internacional do país, inspirado pelas ideias-guia do filósofo Olavo de Carvalho. Além desse núcleo, influenciaram diretamente a formulação da política exterior os economistas liberais, liderados pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e os oficiais militares e ex-militares vinculados ao novo governo.
Na prática, o revisionismo bolsonarista apenas gerou o afastamento brasileiro de instituições multilaterais sul-americanas criadas a partir da própria iniciativa do país, ao longo do século XXI, além como conflitos desnecessários com importantes parceiros comerciais e estratégicos, como os países árabes, europeus e até mesmo a China.
As relações com os Estados Unidos, principalmente com o presidente Donald Trump, foram colocadas no topo das prioridades da inserção internacional brasileira no período. À época da visita de Bolsonaro aos EUA, chegou-se a discutir a possibilidade de uma intervenção militar conjunta na Venezuela, bem como a promessa estadunidense de apoio ao pleito brasileiro de adesão à OCDE, além de possível designação do Brasil enquanto aliado extra-OTAN.
De forma a viabilizar o ingresso na OCDE, objetivo brasileiro assumido desde o governo Temer, Bolsonaro aceitou a retirada do Brasil da lista de países com Tratamento Especial Diferenciado (TED), no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Radicalizando a postura antiglobalista avessa ao multilateralismo, também utilizada por Trump, Bolsonaro chegou a mencionar, em sua campanha eleitoral, a intenção de retirar o Brasil da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Acordo de Paris. No entanto, o governo se limitou a deixar o Comitê de Direitos Humanos do organismo, além de desistir de sediar a Conferência da ONU sobre mudança climática, alegando problemas de orçamento, e se retirar do Pacto Global para Migração.
O peso desse alinhamento ideológico – claramente dirigido a partir do chamado núcleo antiglobalista – acabou por confrontar interesses dos setores liberais e militares do governo, ecoando ressentimentos de parte da base aliada de Jair Bolsonaro e de diversos setores da sociedade, essencialmente os empresariais, que viriam a ser afetados pelo reflexo de parte das movimentações da política exterior.
Após pressões da ala militar, temendo a importação de atos terroristas para o Brasil, da ala liberal e dos setores econômicos, receosos da possível perda de mercado nos países árabes, e de importantes quadros do Itamaraty, alinhados à perspectiva histórica de equidistância brasileira no conflito árabe-israelense, obstruíram tamanha inflexão por parte do governo: foi criado apenas um Escritório de Comércio e Investimentos do país em Jerusalém. Da mesma forma, as declarações oficiais do Brasil em apoio aos EUA no contexto do assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, no Iraque, suscitaram questionamentos quanto à possível importação de conflitos exógenos ao arco de atuação do país.
Ressalte-se que o governo brasileiro também tem conduzido de maneira errática as relações com a China, maior parceiro comercial do país desde 2009, responsável por cerca de 80% do superávit comercial brasileiro em 2019, por um comércio bilateral que representa mais de US$ 100 bilhões ao ano e por mais de US$80 bilhões em investimentos. Ao longo da campanha eleitoral, Bolsonaro fez inúmeras referências à China enquanto país que estaria “comprando o Brasil”, e ao longo de sua trajetória enquanto deputado chegou a visitar Taiwan, em 2016, numa viagem oficial, o que gerou questionamentos por parte da China frente à violação, por parte de parlamentares brasileiros, do princípio de uma só China. No entanto, já no governo, Bolsonaro priorizou estabilizar as relações, conciliando suas posições com as chinesas e visando manter intacta a agenda bilateral, de extrema importância para diversos setores do país.
No cenário regional, a política externa bolsonarista fez questão de desmontar importantes mecanismos de integração há décadas construídos com relevante participação e protagonismo brasileiro. Nesse sentido, o Brasil oficializou sua saída da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), em abril de 2019. Com essa decisão, contribuiu decisivamente para o efetivo esvaziamento daquele que era, desde sua criação em 2008, o principal instrumento de concertação política regional na América do Sul, e que fora crucial, outrora, para mediar crises políticas e sociais ocorridas na Bolívia, Equador, Paraguai, Colômbia e Equador.
Da mesma forma, a UNASUL também servia como fórum privilegiado para o debate multilateral sobre desafios políticos, econômicos e securitários comuns ao conjunto dos países sul-americanos. Concomitantemente, o Brasil aderiu ao Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL), iniciativa dos Presidentes do Chile, Sebastián Piñera, e da Colômbia, Iván Duque, que, diferentemente da UNASUL, não congrega o conjunto dos países da região, mas apenas aqueles com governos alinhados a um viés político e ideológico liberal-conservador.
Seguindo o repertório de críticas aos instrumentos de articulação política regional gestados na década anterior, o Brasil também deixou de participar, já no começo de 2020, da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), alegando contrariedade com a presença nela de governos supostamente ditatoriais, como Venezuela e Cuba, e passando fortalecer sua atuação no seio da Organização dos Estados Americanos (OEA), em consonância com os interesses dos Estados Unidos da América (EUA) para a região.
Assim, o Brasil revelou desinteresse pelo organismo que ajudou a fundar, em 2010, durante uma cúpula do Grupo do Rio sob liderança do então presidente Lula, e que atualmente é formado por mais de 30 países da região. A CELAC, aliás, já havia realizado profícuas reuniões do Fórum Ministerial com a China (2015-2018), tornando-se uma plataforma central para aprofundar a colaboração com o gigante asiático, inclusive para avançar rumo à implementação da Nova Rota da Seda na América Latina.
Nem mesmo as relações com a Argentina – maior parceira comercial do Brasil na América do Sul e desde 1992 aliada fundamental na construção do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) – passaram impunes ao revisionismo da política externa brasileira. Ao longo do processo eleitoral que concedeu vitória à Alberto Fernández, do Partido Justicialista (PJ), Jair Bolsonaro fez questão de mencionar os riscos que um eventual regresso da esquerda ao governo argentino poderia representar para a região. Mesmo após sua eleição, não baixou o tom: lamentou a vitória de Fernández e caracterizou sua eleição enquanto uma má escolha dos eleitores argentinos. Bolsonaro acabou não participando da posse do novo presidente argentino, novamente rompendo com uma tradição já consolidada na relação entre os dois países, enviando o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, em seu lugar.
Contudo, foram as conturbadas relações com a Venezuela e os desdobramentos políticos e humanitários de sua crise que constituíram o principal desafio enfrentado pelo Brasil no cenário hemisférico. Acompanhando as perspectivas norte-americanas, o governo brasileiro assumiu postura de aberta oposição ao governo liderado por Nicolás Maduro, atuando no sentido de isolá-lo política e economicamente, e se declarando aliado de Juan Guaidó, um autoproclamado presidente sem maiores forças dentro do contexto real do jogo de forças no país vizinho. Assim, não apenas o Brasil perdeu capacidade de diálogo com o governo de fato da Venezuela, como também abriu espaço para que potências extrarregionais viesses a tomar o papel de mediadoras da crise.
Nesse mesmo sentido, o Brasil encerrou sua cooperação com Cuba no campo da saúde, e acompanhou os votos solitários dos EUA e de Israel contrários à resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas que condenava o embargo econômico aplicado à Cuba, revertendo outra posição brasileira sustentada ao longo de décadas por diferentes governos.
Ao longo do prolongado pesadelo da pandemia, os ataques gratuitos do chanceler às lideranças e peças-chave do tabuleiro geopolítico igualmente complicaram a situação do Brasil no processo de aquisição de vacinas e insumos para combater o coronavírus. Além do mais, a eleição de Joe Biden nos EUA aprofundou o inédito isolamento brasileiro no contexto hemisférico e global, acendendo o sinal de alerta quanto à capacidade das grandes potências se valorem deste vácuo para imporem seus interesses na arena multilateral e mesmo nas negociações bilaterais.
Como resta evidente, mais do que simples adaptação perante esforços congregados ao longo dos governos do PT, a reorientação da política externa brasileira esvaziou iniciativas há décadas construídas e consolidadas pelo Itamaraty e pelos principais formuladores da inserção internacional do país. Consequentemente, a vocação brasileira em prol da afirmação de uma ordem multipolar foi ofuscada, em prol de uma sustentação acrítica de movimentações preconizadas por teóricos alheios aos tradicionais ambientes de formulação estratégica do governo, e radicalmente alinhados aos interesses setoriais, corporativos e antinacionais.
A queda de Ernesto Araújo vem tarde, e não nos permite prever se seu substituto colocará o Itamaraty de volta nos rumos soberanos e pragmáticos de sua prolongada tradição diplomática. Diretamente do altar dos grandes heróis da pátria brasileira, o Barão do Rio Branco sorri, ainda que timidamente, temeroso das agruras e obstáculos que ainda nos esperam.